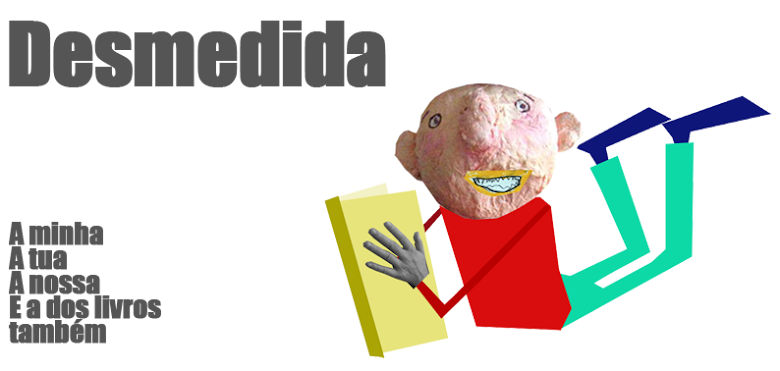Há 40 anos, numa localidade muito distante, no interior de Trás-os-Montes, também se viveu o 25 de Abril de 1974. Foi, seguramente, uma Revolução diferente. Sem a força da rua e sem a forte presença dos militares. Cantou-se a Liberdade, mas também se temeu o peso dos costumes antigos e de uma sociedade muito estratificada. Foram essas contradições que Tiago Patrício, que nasceu no Funchal, em 1979, mas cresceu em Carviçais, em Torre de Moncorvo, quis captar no seu segundo romance, que acaba de chegar às livrarias com a chancela da Gradiva.
Mil Novecentos e Setenta e Cinco é uma viagem ao passado, um tiro que não procura ser certeiro. Não escolheu o centro da Revolução dos Cravos, nem o dia que mudou Portugal.
Ao regressar a casa, Horácio depara-se com uma aldeia revolucionária em curso. E quando o ano acabar, nem ele, nem os que o rodeiam, serão os mesmos. Para o escritor, este é também uma nova incursão no seu território literário. “É difícil sair de Trás-os-Montes”, diz. Hoje vive em Lisboa, mas a sua escrita ainda mora lá.
Trás-os-Montes, o seu primeiro romance, tinha a duração de um dia. Este abarca um ano inteiro. A noção de tempo é importante na construção dos seus romances?
Sim. No primeiro, o dia mais longo do ano, 21 de Junho, neste o ano que mais demorou a passar, 1975. Aliás, no ano passado saiu um livro com o mesmo título e fiquei preocupado.
Igual? Já tinha acontecido o mesmo com Trás-os-Montes, que era para se chamar O Cair da Noite.
É verdade e depois a minha editora publicou o romance do Michael Cunningham, Ao Cair da Noite, e tive de mudar. Com este livro a opção foi escrever o ano por extenso, o que me agradou muito. Com Mil Novecentos e Setenta e Cinco sente-se a cadência das quatro palavras, das quatro estações, das quatro partes do livro. O tempo, de facto, importa. As personagens são apresentadas nos primeiros capítulos e depois têm de lidar com tudo o que vai acontecendo.
Um dia e um ano remetem para a ideia de círculo perfeito.
A escrever ou a dar entrevistas divirjo muito, o que pode deixar o interlocutor diante de um nó cego. Eu próprio às vezes não sei para onde vou. Daí a importância da estrutura. Compreendi-o num seminário com Simon Stephens, que acentuava muito a importância dessa rede. Ter uma delimitação à qual as personagens estão constrangidas não quer dizer ausência de liberdade. Pode ser o contrário. Ao encontrar uma estrutura deixo de me preocupar com o esqueleto e concentro-me nas personagens. Entre A e B há uma infinidade de pontos para explorar.
Quer dizer que sabe como começa e acaba o romance?
Exato, o que não quer dizer que diminua o interesse. Mesmo quando se sabe o “quê” fica a faltar o “como”. A certa altura do Werther, do Goethe, sabemos que ele morreu e que aquelas são as cartas que deixou sobre a secretária. Mas como morreu? A forma como se conta é um dos principais trabalhos do romancista.
Ao tempo, acrescenta outro constrangimento: o geográfico. Trás-os-Montes é a base da sua literatura?
É muito difícil sair de Trás-os-Montes. Há uma forma: mudar os nomes das ruas e das personagens. Horácio passar a Charles e Rua Direita a Fifth Avenue. A verdade é que estava a meio de um romance passado no Báltico, mas vi-me num beco sem saída por causa da entrada do sobrenatural na história. Alguém está a estender a roupa e sente uma mão. Ainda não percebi de onde veio. Como não queria entrar pelo mundo dos vampiros ou do fantástico deixei-o de lado. Virei-me para o que sobrou do Trás-os-Montes e para uma peça de teatro em que imaginava que o 25 de Abril não tinha acontecido.
O que se revelou apelativo nesse material?
Em 1975 eu ainda não era nascido, se fosse talvez não me lembrasse de escrever sobre esse ano. É a coisa mais natural do mundo. Em concreto, este livro começou há mais ou menos dez anos num jantar de família entre o Natal e o Ano Novo. Um primo mais velho lembrou-se que nesse tempo se discutia política no café durante o dia e faziam-se rondas e contagens pela aldeia à noite. Quando passamos à sobremesa acrescentou: “ninguém imagina como eram as coisas naquela altura”. No digestivo pedi para me contar mais coisas, mas na minha família nunca se conta nada até ao fim.
Escreveu para o descobrir?
Sim, para perceber esse ano em que tudo parecia possível, em que tudo era um ato político, tal como hoje tudo parece ser economia. É regressar ao 25 de Abril mas um bocadinho ao lado. É a ideia do filme do João César Monteiro: O que farei com esta espada? Nos períodos revolucionários, cada decisão, por mais pequena que seja, tem um alcance enorme e pode afetar muita gente.
É também um olhar sobre o 25 de Abril num dos locais mais distantes de Portugal continental?
Isso também me interessou muito. Ver como a Revolução chegou a uma aldeia de Trás-os-Montes, por que intermédio, que mudanças desencadeou, como é que se tentou apanhar a energia progressista e conter a sua impetuosidade.
Qual seria a melhor imagem para descrever esse impacto?
A de uma tensão permanente. Em Trás-os-Montes a sociedade era muito estratificada, mas não tanto como no Alentejo. Poucos foram os momentos de comunhão ou fraternidade entre proprietários, comerciantes e camponeses. A ideia que tenho é esta: quase todos achavam que tinham alguma coisa a perder com a Revolução, mesmo que fosse meio palmo de terra. Pensou-se primeiro em como manter os privilégios com o que aconteceu. Lembro-me de quando era pequeno ouvir o antigo Regedor da aldeia dizer: “25 de Abril, 25 da Merda”. Tudo o que acontecia de mau era culpa da Revolução. É por isso que o coveiro do romance diz que em Trás-os-Montes tudo chegava com 20 anos de atraso, até o Terramoto de 1755!
Num espaço pequeno havia menos pudor em mostrar opiniões contra a Revolução?
Talvez. Mas na altura até a direita se dizia socialista. Houve de facto uma aparente viragem à esquerda, em parte porque se pensava que era mais fácil manter os privilégios tendo uma perninha no lado do inimigo. Foram histórias desse tempo, muito ricas, que tentei misturar neste caldeirão de acontecimentos. Por se passar em Trás-os-Montes, senti que estava menos preso aos factos históricos, ao que acontecia em Lisboa. Quis perceber como uma sociedade fechada, pouco politizada, reagia a uma grande abertura. Tudo numa linguagem direta e sem filtros.
O teatro dentro do romance
Tem escrito muito para teatro. Essa experiência influenciou a escrita deste livro?
Muito. Há um momento em que a narrativa desaparece e o livro torna-se puro ato. Muitas vezes não se sabe quem está a falar. Há páginas inteiras só com diálogos, sem se nomear a personagem.
É a memória da peça que esteve na base do livro?
Procurei essa fluência, sim, e criar uma peça informal dentro do romance. Como se fosse possível em certos momentos passar à cena. Se estivéssemos em palco, haveria um narrador que na boca de cena explicaria o que se ia passar e depois entrariam as personagens. Gosto dessas descontinuidades, da ideia de um romance onde cabe tudo, momentos íntimos, acontecimentos vorazes, partes que nem sempre encaixam bem. Tem a ver com o temperamento das personagens, que no início foram pensadas com nomes começados com a letra A. Depois, no entanto, revelou-se impraticável. Eu próprio já não sabia quem era quem.
Por que quis nomes começados em A?
Em tempos pensei fazer 26 romances, um para cada letra do abecedário. Há até um músico norte-americano, Sufjan Stevens, que pensou fazer um álbum para cada Estado, mas ficou-se por três. Os projetos que têm uma base quase matemática são desafiantes. O que vou fazer se não posso fugir a esta regra?
O que lhe agrada nesse jogo das letras?
A sua irradiação. Não é o mesmo chamar Ofélia ou Penélope a uma personagem. Mesmo se escrevesse um romance com um determinado nome e o alterasse no fim, na revisão, acredito que mudaria a narrativa também. Tem a ver com o intertexto, com o que chamamos cultura, a ligação a outros romances, a apropriação.
No seu mestrado, está a estudar os efeitos da literatura. Que consequências gostava que este romance tivesse?
A literatura tem consequências, mas não são mensuráveis. Interessei-me por este tema por causa do homem que assassinou John Lennon. Ele dizia que fez o que fez por causa do romance À Espera do Centeio, de J. D. Salinger. Li o livro, que é fabuloso, e não encontrei motivos para se matar uma pessoa.
Não espera que alguém cometa um crime com este livro…
Não sei se sou otimista ou pessimista, apenas que tenho pouca esperança na literatura de boas intenções e na de más também. Nos meus livros há sempre uma palavra ou uma expressão que está subjacente a tudo. Em O Livro das Aves era “bondade”, noutro livro “beleza terrível”, noutro ainda “estranheza”. Neste é “ironia criativa”.
Em que sentido?
Uma ironia que ri com o leitor mas que não goza com ninguém. Não escrevo para depreciar. Não tentei moralizar o tema, nem ver quem teve razão. Ninguém sai bem tratado, mas mal também não.
Não lhe interessou o julgamento?
Nem sobre as pessoas, nem sobre o tempo. Mil Novecentos e Setenta e Cinco não é uma crónica de costumes, nem uma caricatura, se bem que um dos mecanismos da literatura seja a majoração e a minoração. Se puder causar um riso interior é bom, mas não é uma anedota sobre o 25 de Abril, nem sobre a Revolução, que sempre me causou um grande fascínio pela forma como foi preparada pelos jovens capitães e teve em Salgueiro Maia o seu herói, na Rua do Arsenal, enfrentando de peito aberto o último estertor do regime.
Mas é um livro político?
Na medida em que trata de reações individuais e coletivas. No fim, uma das personagens percebe que o projeto que ele tem deixa de fazer sentido se não for partilhado por outras pessoas. Essa é uma conclusão que também aplico à minha escrita. Primeiro, escrevo com as minhas vozes e as minhas preocupações. Depois tento chegar ao outro, a quem lê.
Entrevista publicada no JL 1135, de 2 de Abril de 2014